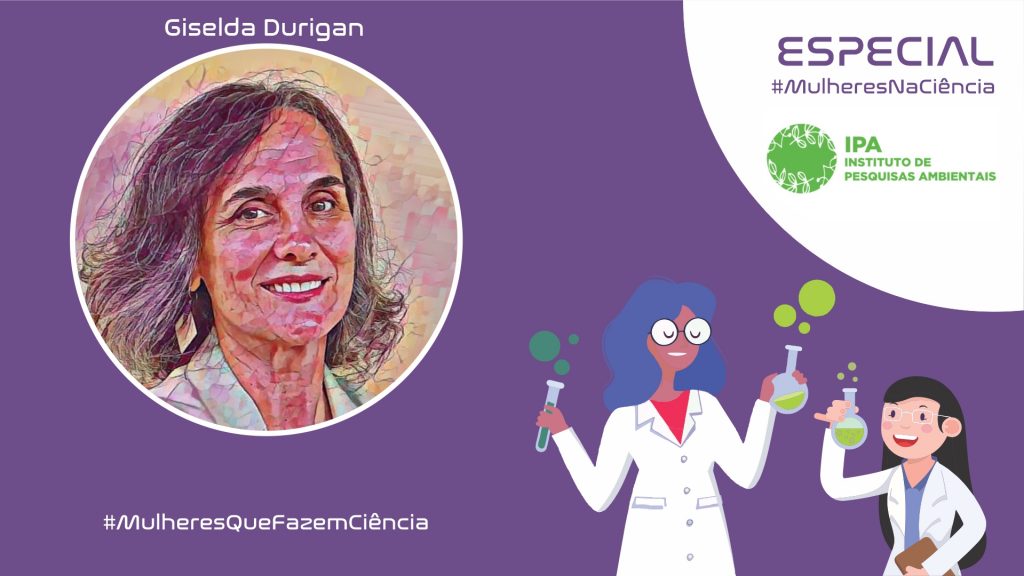
24/03/2023
Com Giselda Durigan
 Sou engenheira florestal por formação, hoje pesquisadora do Instituto de Pesquisas Ambientais – IPA. Durante quase 40 anos, realizei pesquisas científicas dentro do Instituto Florestal, instituição governamental que historicamente foi também responsável pela conservação da natureza e pelas políticas ambientais no estado de SP. Essa circunstância me levou a direcionar minhas pesquisas, desde o início, para a compreensão dos ecossistemas e dos processos de degradação e, com base nesse conhecimento, realizar experimentação em busca de soluções para os problemas do mundo real.
Sou engenheira florestal por formação, hoje pesquisadora do Instituto de Pesquisas Ambientais – IPA. Durante quase 40 anos, realizei pesquisas científicas dentro do Instituto Florestal, instituição governamental que historicamente foi também responsável pela conservação da natureza e pelas políticas ambientais no estado de SP. Essa circunstância me levou a direcionar minhas pesquisas, desde o início, para a compreensão dos ecossistemas e dos processos de degradação e, com base nesse conhecimento, realizar experimentação em busca de soluções para os problemas do mundo real.
A engenharia florestal é uma profissão muito mais técnica do que científica. Engenheiros, em geral, são profissionais treinados para resolver problemas, para planejar obras, para tomar decisões. Mas para tudo isso nem sempre existem protocolos prontos para serem seguidos. Quando se trata de lidar com a natureza, as dúvidas surgem a todo momento e as lacunas de conhecimento dificultam as decisões. Foram as dúvidas durante o trabalho de engenheira que me motivaram a aprofundar meus conhecimentos em ecologia e a me tornar cientista. Apoiada por equipe experiente na Floresta Estadual de Assis e por um chefe que estimulava a pesquisa e a experimentação, foi fácil realizar essa transição.
Quando eu entrei na graduação em engenharia florestal na ESALQ, em 1976, as mulheres eram apenas 1/3 dos alunos. Os professores do departamento eram todos homens! Era natural que, no mercado de trabalho, as mulheres também fossem minoria. Porém, ainda hoje, o setor florestal é predominantemente masculino, embora haja equiparação de gênero entre os ingressantes nos cursos de engenharia florestal. Naquele tempo, o trabalho de engenheiro florestal exigia muito tempo em campo, interagindo com profissionais quase que exclusivamente masculinos, desde o trabalhador braçal, operadores de máquinas, técnicos, de modo que diferenças físicas entre homens e mulheres poderiam ser relevantes. Hoje a presença do profissional no campo é muito menos frequente e existem inúmeras funções dentro de toda a cadeia produtiva florestal que não exigem nada mais do que habilidades intelectuais e de relacionamento, para as quais não é de se esperar que existam diferenças entre homens e mulheres.
Na ciência, em todo o mundo, as mulheres são minoria. Surpreendentemente, o Brasil é destaque global nesse quesito, com uma das maiores proporções de mulheres, a caminho da equiparação, que já existe aqui em muitos campos do conhecimento. Na ecologia, por exemplo, praticamente não existe desequilíbrio de gêneros, pelo menos até o final da pós-graduação. Ecologia, aqui, refere-se ao campo da ciência e não ao diploma deste ou daquele curso. Ecólogos podem ser formados em biologia, engenharia florestal, agronomia, ou até mesmo em ecologia. Porém, quando se trata da proporção de mulheres no campo das publicações em ecologia, assim como em outras ciências, há uma queda abrupta na participação feminina entre os autores. Esse é um fenômeno ainda não compreendido, que precisa ser estudado. Se há tantas doutoras quanto doutores em ecologia, por que as ecólogas publicam muito menos do que os ecólogos? Por consequência, se publicam muito menos, as mulheres acabam sendo menos citadas e, hoje, o número de citações que um cientista recebe é o critério de avaliação do seu impacto na sociedade, nas decisões. Há, certamente, obstáculos ou fatores sociais não percebidos que, das duas uma: ou impedem as mulheres de publicar ou obrigam os homens a publicar, gerando grande desbalanceamento na produção acadêmica.
Se me perguntam sobre exemplos inspiradores entre as mulheres na ciência, devo dizer que, na verdade, nunca prestei muita atenção se as pessoas eram deste ou daquele gênero. Nem entre os ídolos, nem entre os colegas de escola ou de trabalho, nem entre os meus alunos. Entre as pessoas que eu admirava e tomava como bons exemplos sempre existiram homens e mulheres, indistintamente. Entre as mulheres, me lembro da Maria Tereza Jorge Pádua, que não é cientista, mas fez uma enorme diferença na conservação da natureza no Brasil. Se for para pensar globalmente, eu destacaria um homem, William Bond, não só por ser o maior conhecedor da ecologia de savanas, mas pela sua capacidade de disseminar esse conhecimento por meio de suas publicações, palestras e, também por ter formado grande número de discípulos, destacando-se mulheres brilhantes, como Kate Parr, Caroline Lehmann, Sally Archibald, Carla Staver, todas grandes expoentes na luta pela conservação das savanas do mundo.
Não posso afirmar que enfrentei desafios relevantes pelo fato de ser mulher, ao longo de toda a minha carreira. Mas me lembro de obstáculos burocráticos que atrasaram bastante a minha ascensão acadêmica, um deles em especial: na década de 1980, existia uma regra institucional absurda que dizia que os pesquisadores do Instituto Florestal deveriam publicar suas pesquisas na Revista do Instituto Florestal. Caso quiséssemos publicar fora, precisávamos de autorização do Conselho Técnico. Para poder publicar meu primeiro artigo em periódico internacional, em 1994, meu pedido tramitou durante cerca de um ano até que eu fosse autorizada. Foram as reprimendas do CNPq e da Fapesp por publicar minhas pesquisas apenas no periódico institucional que me levaram a romper a barreira imposta, quando acabei descobrindo que não existia uma restrição oficial verdadeira e que, portanto, eu não precisava pedir autorização para ninguém para publicar onde fosse melhor para mim e para a ciência.
Olhando para trás, em busca das minhas contribuições mais relevantes para a ciência, vejo o conjunto de pesquisas sobre o Cerrado, que resultaram na derrubada de alguns dogmas e mudanças de paradigma. Destaca-se meu primeiro estudo, ainda em 1987, demonstrando que o mosaico de fisionomias do Cerrado tende a desaparecer com a eliminação do pastejo e do fogo, resultando em extensas áreas homogêneas de Cerradão. O aprofundamento dos meus estudos nessa área teve repercussão global e hoje o fenômeno chamado “woody encroachment” é amplamente conhecido e combatido em diferentes regiões do planeta onde existem ecossistemas naturais abertos. Hoje, a necessidade de manejar o fogo e até mesmo manter o pastejo em ecossistemas naturais abertos já é amplamente reconhecida, redirecionando políticas públicas. Também destaco as descobertas resultantes dos nossos experimentos em restauração de ecossistemas, quando demonstramos, por exemplo, que plantar alta diversidade de espécies não garantia o sucesso e que, em se tratando de Cerrado, plantar árvores é apenas um complemento, sendo mais importante restabelecer o estrato rasteiro formado por capins e outras plantas pequenas.
Mas a certeza de que muito mais precisa ser feito é permanente. A lentidão com que os avanços do conhecimento são transferidos para a sociedade leva a crer que não vai dar tempo de evitar grandes erros. O maior problema, pelo menos em se tratando de pesquisas ambientais, não só no estado de SP, está na enorme dificuldade em fazer com que o conhecimento científico seja incorporado na prática da conservação de ecossistemas, na legislação, nas esferas administrativas. Dentro da própria estrutura da SEMIL, não é difícil encontrar exemplos de decisões que são tomadas à revelia das evidências científicas produzidas por pesquisadores da própria SEMIL. Alguma coisa precisa ser feita para que o “fazer como sempre fizemos” seja substituído por “aprender e mudar para fazer o melhor possível”.
Há quem diga que as meninas de hoje não querem ser cientistas e que o estereótipo da mulher cientista é desmotivador. O que sei é que “ser cientista” é uma das profissões mais sonhadas pelas crianças em todo o mundo, sejam meninas ou meninos. Mas, como eu disse antes, algo acontece depois que as meninas se tornam mulheres com diplomas na mão, pois a proporção delas e a de sua produção acadêmica diminuem vertiginosamente entre os cientistas da área.
O que eu tenho para dizer com base na minha experiência é que ser cientista é maravilhoso. E que um dos caminhos mais seguros em busca da felicidade é ter prazer no trabalho. Eu já poderia ter me aposentado há dez anos. Mas queria mesmo é poder continuar a fazer ciência e compartilhar conhecimento por muitos anos ainda, porque são infinitas as perguntas que precisam ser respondidas. A ciência me diverte, nunca me faltam planos, nunca me falta assunto. Um cientista não envelhece. Ele está sempre melhorando, crescendo, sonhando. Mulheres cientistas são, em relação às mulheres em geral, mais interessantes, mais respeitadas, mais independentes, mais conscientes de seu papel, seja dentro de casa, no âmbito da família, seja perante a sociedade, em qualquer lugar. E é especialmente gratificante a sensação de que a nossa vida valeu à pena, fez diferença neste mundo!
Giselda Durigan é engenheira florestal, doutora em biologia vegetal pela UNICAMP, com pós-doutorado em fitogeografia pelo Royal Botanic Garden Edinburgh, na Escócia (2002). Pesquisadora do Instituto de Pesquisas Ambientais de São Paulo, é também professora visitante dos Programas de Pós-Graduação em Ciência Florestal (UNESP, Botucatu) e Ecologia (UNICAMP). Desenvolve pesquisas sobre ecossistemas terrestres tropicais, especialmente savanas, campos e florestas estacionais. Grande parte de seus estudos visa a aplicação do conhecimento ecológico para a conservação, manejo e restauração de ecossistemas.



